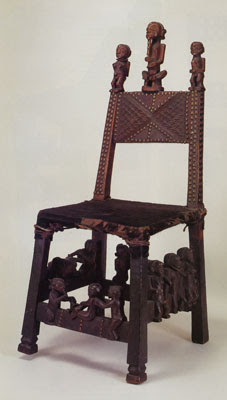3 falantes, é formado pelas etnias Lunda Lwa-Cinde, Lunda Ndembu. A área de difusão da língua Cokwe situa-se a Nordeste e Leste, abrangendo a totalidade das províncias das Lunda Norte e Sul, a província do Muxiku, com um prolongamento profundo para a província do Kwandu Kubangu.
3 falantes, é formado pelas etnias Lunda Lwa-Cinde, Lunda Ndembu. A área de difusão da língua Cokwe situa-se a Nordeste e Leste, abrangendo a totalidade das províncias das Lunda Norte e Sul, a província do Muxiku, com um prolongamento profundo para a província do Kwandu Kubangu.O Cokwe é considerado como uma língua transnacional pelo facto de a sua área de difusão se estender para além das fronteiras nacionais.Ele é falado na República Democrática do Congo e na República da Zâmbia.
Referia José Redinha, em ‘’Etnias e culturas’’, que ‘’’’as línguas actualmente faladas em Angola são, pela ordem de antiguidade, a bosquímana ou bochimane, a língua banta e a língua portuguesa.
De todas elas, apenas a língua portuguesa possui forma escrita, o que muito influiu para a divulgação do português nas populações angolanas.
A linguagem falada ou glótica das populações de Angola inclui alguns códigos de língua secreta ou artificial, utilizados em tempos por associações secretas ou semi-secretas, e actualmente em ritos sociais ou de puberdade masculinos. São usados pelos iniciados durante os períodos de estágio nas escolas do mato e rigorosamente proibidos logo que retornem à vida normal nas suas povoações.
Nota-se também a existência de termos de carácter puramente religiosos, empregados nas práticas culturais, mais ou menos misturados com elementos da linguagem corrente. São estes termos, por regra, de origem arcaica, e utilizados para aquele fim.
A par destas falas especiais e particulares, encontramos outras, reservadas, tendo por objectivo manter conversação entre os próprios sem serem compreendidos pelos circunstantes estranhos ao grupo. Em Angola, existem também as chamadas linguagens tamboriladas que, mormente em épocas passadas, eram transmitidas por meio de tambores, de que o modelo mondo, ainda existente, constitui instrumento especializado para o efeito.
Este instrumento encontra-se muito divulgado, testemunhando bem, na sua dispersão actual, a intensa aplicação que deve ter tido em épocas passadas.
Henrique de Carvalho, referindo-se ao uso do mondo entre os Lundas, deixou registada, entre outras, esta passagem:
‘’Para chamar toda a gente às armas (assisti a esta convocação no acampamento de Xa Madiamba), dizia o mondo: acuarunda ó chipata congolo, ucuete uta, ni cabuita mulimo, munguletanhi, munguletanhi – Povo da Lunda, os guerreiros, os que têm espingardas e frechas, venham todos com ellas, venham todos com ellas’’.
Na região da Lunda e no Cuango, assistimos ao emprego do mondo entre os Lundas, Quiocos, Xinges e Bangalas. Os tocadores de mondo necessitam de bastante experiência conforme nos afirmaram.
Também, nem todos são capazes de ouvir convenientemente as mensagens. Interpretam-nas movimentando os lábios como ajuda à captação e interpretação.
No entanto, entre os Bangalas, observámos a emissão de mensagens longas e pronta resposta.
O alcance depende da topografia da região e das correntes aéreas, mas admitem os africanos que é normal transmitirem para 10 quilómetros, podendo, em condições óptimas, alcançar muito mais longe.
Há, sem dúvida, uma técnica tipicamente africana e não fácil de interpretar, no uso de transmissões acústicas. O etnomusicólogo Kubik tratando de estruturas e escalas musicais africanas, dá uma explicação por essa via, nos termos seguintes:
‘’Hoje em dia podemos ter como certo que uma série de tribos africanas afinam os seus instrumentos de acordo com sílabas da língua ou com fórmulas verbais. As fórmulas verbais mnemónicas e onomatopaicas têm grande relevância nas culturas sem escrita, como meio de preservar a tradição, constituindo um importante instrumento de ensino. As crianças aprendem a tocar tambor e outros instrumentos por meio de fórmulas verbais e silábicas. O ducto melódico de passagens de tambor representa palavras e frases, imitando as alturas dos sons, os glissandi, a claridade das vogais e outros caracteres linguísticos rítmicos e dinâmicos. É neste princípio que se baseiam os tambores falantes africanos’’.
Entre os Quiocos encontram-se referências a uma espécie de linguagem assobiada, por meio de apitos, usada pelos caçadores, e nas antigas acções de guerra. No Cassai, tivemos oportunidade de observar o emprego local do designado ‘’gesto falante’’, linguagem gesticulada ou mímica, para a comunicação entre as margens largas do curso, pelo menos como auxiliar de linguagem propriamente dita.
Ainda quanto à linguagem assobiada, usavam os antigos Lundas uns apitos, com os quais afirmavam transmitir, com segurança, diversas mensagens. O processo consistia em emitir certas onomatopeias musicais muito conhecidas, ou imitar o canto de algumas aves cujo código é dado pelas canções do folclore.’’’’
ASPECTOS FUNDAMENTAIS E PARTICULARES DA LÍNGUA ‘’UTCHOKWE’’ (segundo J.V. Martins)
Fonética
Alfabeto e seus caracteres
De acordo com o quadro fonético dos caracteres, preconizado pelo Instituto de Cultura e Línguas Africanas, que adiante apresentamos, as vogais são como em português: a, e, i, o, u. São breves ou longas. A vogal e (breve) na pronúncia, rápida antes da vogal, geralmente soa como i. Exemplo:
Pembe atoma; penbiatoma (cabra branca).
Ngombe apema; ngombiapema (boi bom).
Regra geral não há ditongos: ai, ao, eu, ou.
Quando há duas vogais finais, formam duas sílabas, sendo a primeira sempre acentuada. Por isso, empregamos as semivogais w e y para acentuar a vogal seguinte, ou das sílabas anteriores ou seguintes. O w emprega-se em substituição do u: Exemplo:
Ku-fua; ku-fw-a (morrer).
O y substitui o i breve. Exemplo:
limbia; y-im-by-a (panela).
A grafia do r utchokwe é um assunto muito discutido e que ainda não está bem resolvido. Escreve-se r ou l, conforme o parecer de cada um. Em algumas regiões de Angola, onde há mistura de tutchokwe com luenas, ambundos, ganguelas, umbundos, luchazes e outros, substitui-se o r por l.
Quase todos os livros que temos visto escritos em língua Utchokwe, quer nas missões protestantes quer católicas, escrevem l em vez do r. Ora, se bem que os Tutchokwe não pronunciem o r forte, muito menos pronunciam o l, mas sim um r línguo-palatal tão fraco como aquele que nós pronunciamos na palavra ‘’arara’’. O facto de , nas publicações em Utchokwe, editadas pelos missionários protestantes e católicos, se escrever l em vez de r, dá-nos a entender que, nas regiões onde essas publicações foram feitas, os tutchokwe pronunciam mais acentuadamente o l. Os próprios nativos da região nordeste da Lunda dizem que, tal pronúncia é antiga e de mistura com a língua Umbunda, enquanto nesta região o r se deve à influência dos lundas e quimbundos.
Dum modo geral, dá-se preferência à ortografia sónica. Todavia, em casos consagrados pelo uso, empregámos as fórmulas vulgarmente conhecidas, com o propósito de obter uma melhor compreensão.
Como o nh português se prestava a confusões, pela decomposição de n e h aspirado, adoptámos o grupo ny.
No intuito de ser melhor compreendido e auxiliar o leitor, junta-se, a seguir, os quadros fonéticos dos grafemas preconizados pelo Instituto de Cultura e Línguas Africanas e dos que empregámos para escrever a língua dos Tutchokwe.
Quando há duas vogais iniciais, o i ou o e funcionam como semivogais. Por isso, o i é substituído e grafado com y.
Exemplo:
Iáia; yaya (irmão mais velho)
Áiáia; ayaya (irmãos mais velhos.
As consoantes são: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z e soam também como em português, devendo observar-se todas as indicações adiante mencionadas.
Grafia e pronúncia
Em utchokwe, ou quioco, como esta língua é mais conhecida, de acordo com algumas normas estabelecidas para a escrita das línguas bantas, dá-se a cada letra um valor único em qualquer situação em que ela se encontra, isto é, a cada signo um som e a cada som um signo.
Assim, o s tem sempre o valor de ss e de c antes de e ou l.
O g nunca vale j. Pronuncia-se sempre ‘’guê’’.
O j pronuncia-se sempre como em português nas palavras ‘’José’’ e ‘’justo’’.
O o nunca é empregue com o valor de u.
O q e o c, nos seus valores duros, são substituídos por k.
O c só se emprega combinado com o h = ch.
O problema mais delicado surge-nos com a grafia dos sons ch e tch, em virtude de estes valores aparecerem frequentemente nas línguas bantas e serem representados por formas diversas, consoante os autores (c, cx, tx, ch, tch e ainda sh e tsh).
Nós adoptamos os grupos ch e tch, tendo o primeiro o som ch português da palavra ‘’chá’’ e o segundo o som da palavra inglesa ‘’match’’, que soa como tche ou tsh.
O f, quando precedido de p, de t ou de qualquer outra consoante, deve pronunciar-se muito fraca e suavemente.
O h é sempre aspirado, excepto quando combinado com c – ch.
O p e o h não se combinam; pronunciam-se separadamente, notando-se bem a aspiração do h.
O r é sempre línguo-palatal, muito suave, e pronuncia-se como em inglês, aproximadamente. Não tem o nosso r forte nem rr dobrados.
Encontram-se outras particularidades, destinadas a fixar a índole da pronúncia utchokwe, que facilmente se compreendem, como sejam: mb, mp, nd, ng, nz, dj.
Tanto o m como o n nasalam sempre com a consoante seguinte, mesmo que sejam precedidas de vogal.
Contracções e elisões
Em utchokwe, tal como em todas as línguas, também há contracções e elisões que convém notar, antes de entrar no estudo morfológico.
Assim, temos:
A+a contrai-se em a. Exemplo:
Ku-fwa atfu = kuf’átfu (morrem pessoas)
A+e contrai-se em e. Exemplo:
Na endele = n’endele (eu andei).
A+i contrai-se em e. Exemplo:
Na injile ou na injye = n’enjile (eu adoeci).
A+o contrai-se em o. Exemplo:
Kana ombo = kan’ombo (põe ovos)
A+u contrai-se em a. Exemplo:
Mawta = ma’ta (espingardas)
E+a contrai-se em a. Exemplo:
Membe a-ya = memb’á-ya? (de quem são os pombos)
E+e contrai-se em e. Exemplo:
Pembe enda = Pemb’enda (as cabras andam)
E+i contrai-se em i. Exemplo:
Pembe yono = pem’yono (a cabra está aqui)
I+i contrai-se em i. Exemplo:
Nzambi kuri yetwe = Nzambi kur’yetwe (Deus ‘está’ connosco)
Como se vê pelos exemplos atrás referidos, a vogal a cai antes de a, e, i e o; o e cai antes de a, e e i, enquanto o i apenas cai antes de i. Convém notar, porém, que nenhuma vogal se contrai com outra vogal inicial de um prefixo concordante ou complemento determinativo. Exemplo:
Yimbia ya etuwe = Yimbia y’etwe (a nossa panela).
O acento tónico recai sempre na penúltima sílaba, salvo raras excepções, visto a maioria das palavras serem graves.
Como adoptamos a grafia indicada no quadro fonético já citado, a acentuação tónica faz-se utilizando as semivogais w e y, como em inglês, evitando, assim, uma profusão de acentos.
Sílabas
Todas as palavras terminam em vogal e nunca em consoante.
Não há ditongos an, en, in, on, un. Por esta razão, tanto o m como o n nasalam sempre com a consoante que lhes segue e nunca com a vogal antecedente; e são puras quando seguidas de uma vogal.
Exemplo:
Ngaje = nga-je (fruto da palmeira ‘’den-den’’ e não négage , como muita gente diz).
Ngombe = ngo’mbe (boi)
Mpafu = mpa-fu (fruto semelhante a grandes azeitonas, produzido pela árvore resinosa mupafu).
Ndongo = ndo-ngo (agulha)
Nzambi = Nza-mbi (Deus supremo)
Mbunge = mbu-nge (coração)
Nzango = nza-ngo (amor)
Morfologia
Classe dos substantivos
Em utchokwe, tal como em todas as línguas bantas, dividem-se os seres em determinado número de classes, cujo conhecimento é absolutamente necessário, a fim de se poder estabelecer a perfeita concordância entre as diferentes palavras de qualquer oração.
Exceptuando as pessoas e alguns animais, que têm nomes especiais para cada sexo, todos os restantes são comuns de dois, ou epicenos, havendo, assim, cinco formas de géneros, a saber:
Dois géneros distintos (masculino e feminino), para as pessoas ou coisas personificadas; dois para as aves, um neutro para pessoas ou coisas personificadas, um neutro para coisas indeterminadas e, por fim, dois para designar, duma maneira geral, todos os seres animados, com excepção de coisas personificadas. Exemplo:
Lunga (o homem) Pfwo (a mulher)
Demba (o galo) Tchari (a galinha)
Kunji (o macho) Tchihwo (a fêmea)
Mutfu (a pessoa) Tchuma (a coisa)
Assim, quando se torna necessário determinar o sexo, sempre que a palavra o não indica por contexto ou por si mesma, forma-se o género juntando as palavras kunji ou tchihwo, regidas do respectivo genitivo para o masculino e feminino, tendo sempre em atenção as formas a empregar. Exemplo:
1ª forma – Só para pessoas ou coisas personificadas:
Mutfu wa lunga (pessoa homem ou pessoa macho, ‘’pessoa de macho’’)
Mutfu wa pfwo (pessoa mulher ou pessoa fêmea, ‘’pessoa de fêmea’’)
Mwana lunga (criança rapaz ou criança macho)
Mwana pfwo (criança rapariga ou criança fêmea)
Kanuke wa lunga (rapaz ‘’moço’’, macho ‘’rapaz de macho’’)
Kanuke wa pfwo (rapariga ‘’moça’’, fêmea ‘’rapariga de fêmea’’)
Kabindji wa lunga (escravo macho ‘’escravo de macho’’)
Kabindji wa pfwo (escravo fêmea ‘’escravo de fêmea’’)
Hamba rya lunga (ídolo macho ‘’ídolo de macho’’)
Hamba rya pfwo (ídolo fêmea ‘’ídolo de fêmea’’)
2ª forma – Como se vê, as palavras mutfu atfu (pessoa/s), podem ser designadas por género neutro, se queremos apenas indicar pessoas ou coisas personificadas, indefinidamente. Exemplo:
Mutfu kachi-ku (nem uma pessoa, ninguém está)
Atfu ku a-ri (há algumas pessoas, há gente)
3ª forma – Só para aves:
Kasumbi wa ndemba (galináceo macho ou galináceo de macho)
Ndemba kasumbi (macho galináceo)
Kasumbi wa tchari (galináceo fêmea) ou tchari tcha kasumbi (fêmea de galináceo)
Kajia wa ndemba (ave macho) ou ndemba kajia (macho ave)
Kajia wa tchari (ave fêmea) ou tchari tcha kajia (fêmea de ave)
4ª forma – Para qualquer ser animado, excepto para pessoas ou coisas personificadas:
Kachitu wa kunji (o animal macho ou animal de macho)
Kachitu wa tchihwo (o animal fêmea ou animal de fêmea)
Kunj’a panga ou panga wa kunji (ovelha fêmea)
Ngombe wa kunji ou kunj’a ngombe (boi macho ou boi de macho)
Tchihwo tcha ngombe ou ngombe wa tchihwo (boi fêmea ou boi de fêmea)
5ª forma – Para coisas indeterminadas:
Tchuma (coisa) Yuma (coisas)
Imate (coisa) Yumate (coisas)
Como se pode observar, só na 3ª e 4ª formas é que o género se pode empregar antes ou depois do nome, visto que, para pessoas ou coisas personificadas, se emprega sempre depois. Até nisto eles distinguem bem as pessoas de qualquer outro ser animado, porque como eles dizem, nenhum outro animal sabe pensar e raciocinar como o homem.
Exemplo:
Ndemba kasumbi ka-tchina bwalu kasumbi wa tchari ku a-ri kunu (o galo fugiu, mas a galinha está aqui; ficou)
Tchihwo tcha ngombe a-sema, hindu ngombe wa kunji kachiku sema (a vaca pariu mas, contudo, o boi não pode parir).
A ordem é arbitrária.
Com excepção dos substantivos, que têm uma forma para os dois números e que são ainda em número bastante elevado, todos os outros têm dois números (singular e plural), os quais se distinguem por prefixos diferentes, posto que, tal como em todas as outras línguas bantas, esta é também uma língua prefixativa ou aglutinada.
Para completar o que atrás ficou dito, expomos a seguir o quadro da transcrição fonética de dez vocábulos, nos quais são empregues os grafemas k, g, ch, tch, ny, e, w, yi, j, cujos sons poderiam suscitar alguma dúvida.
O referido quadro foi elaborado de acordo com o preceituado pela Association Phonétique International (API) e pela Nova Gramática Contemporânea (de Celso Cunha e Lindley Cintra).
QUADRO DA TRANSCRIÇÃO FONÉTICA DOS GRAFEMAS ADOPTADOS NA ESCRITA DA LÍNGUA UTCHOKWE DO NORDESTE DE ANGOLA, DE ACORDO COM O PRECEITUADO PELA ASSOCIATION PHONETIQUE INTERNATIONALE (A P.I.)